NARRATIVAS DIGITAIS E UMA ARQUEOLOGIA PARA O FUTURO
Nesta série de entrevistas, integrantes e colaboradores do Amazônia Revelada compartilham experiências e refletem sobre o papel do patrimônio arqueológico na Amazônia, em uma rede construída por ciência, comunidades e territórios.
Q & A
"Voamos com o Lidar, mas A parte central, o coração do projeto, está no chão da floresta."
⏱️ 5 minutos de leitura
Nesta conversa, o arqueólogo Lúcio Costa Leite reflete sobre as potências e dilemas de uma arqueologia feita com tecnologia de ponta, como o LiDAR*, mas também com os pés no chão e com o compromisso de devolver às comunidades aquilo que é delas: as suas histórias.
*tecnologia de sensoriamento remoto que utiliza laser para medir distâncias com alta precisão, criando modelos 3D detalhados de um ambiente.


- Lisiane Müller
Nas margens do Rio Amazonas, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) desenvolve ações de conservação e pesquisa arqueológica por meio do Núcleo de Pesquisa Arqueológica, o NuPArq, criado em 2005.
Entre atividades de pesquisa científica, análises em campo e ações de salvaguarda, o NuPArq/IEPA tem se consolidado como referência na arqueologia amazônica, abrigando, por exemplo, a mais completa coleção arqueológica do estado. Com formação em História, Antropologia e um extenso percurso na Arqueologia, Lúcio Costa Leite é hoje gerente do NuPArq, vice-presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira e membro do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do projeto Amazônia Revelada.
No projeto, Lúcio tem sido uma das vozes que ajudam a repensar a arqueologia como uma ciência que combina tecnologia de ponta, como o LiDAR, com o compromisso de devolver às comunidades o conhecimento produzido sobre seus próprios territórios, além de enfrentar as heranças colonialistas que ainda atravessam muitas pesquisas.
A gente não está lidando só com dados. A gente está trabalhando com a história das pessoas, com territórios ancestrais.
Lúcio Costa Leite
Lúcio, você poderia se apresentar?
Eu me chamo Lúcio Costa Leite, sou uma pessoa preta que trabalha como arqueólogo no Núcleo de Pesquisa Arqueológica do IEPA, no Amapá, no extremo norte do Brasil. No Amazônia Revelada, eu integro o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, junto com a professora Márcia Bezerra (UFPA) e a professora Iris de Moraes (Unifap).
A partir da sua trajetória, você acha que é possível trabalhar com arqueologia na Amazônia de uma forma que respeite os territórios e o protagonismo das populações locais?
É possível sim fazer ciência na Amazônia, especialmente dentro do campo da arqueologia, de uma forma ética e também respeitosa. Mas esse caminho, em geral, não é tão simples, porque vai exigir um compromisso constante com o diálogo, com a autocrítica do que a gente está fazendo enquanto arqueólogo, e do reconhecimento de um protagonismo que é dos povos da floresta. É aí que surge o primeiro grande desafio, de como conciliar essas duas visões: o rigor científico da arqueologia com respeito a essas diversas vozes.
No âmbito do projeto Amazônia Revelada, como tem sido equilibrar essas relações e garantir uma construção mais coletiva com os Povos da Floresta?
O projeto tem, basicamente, três pilares, ouvir é o primeiro. Antes de qualquer sobrevoo, se faz reuniões com as comunidades. Então, a ideia é não chegar com o plano pronto, mas discutir isso com as pessoas envolvidas no projeto. O segundo é que haja trabalho conjunto, as pessoas, tanto os indígenas quanto os outros povos, como ribeirinhos, beiradeiros, quilombolas, que vão nos ajudar a interpretar os dados. Afinal, eles aqui sabem melhor da floresta do que a gente. E tem um terceiro pilar, que é devolver esse conhecimento. Então, todos os mapas e descobertas vão ficar disponíveis às comunidades, porque, afinal, os dados são deles e as histórias também são sobre eles.
De fato, o projeto usa essa tecnologia incrível, que é o LiDAR. Mas a parte central, o coração do projeto, está mesmo é no chão da floresta. É nas conversas que os diferentes agentes, os diferentes arqueólogos, os diferentes profissionais envolvidos com o projeto apoiam os povos que vivem há gerações na região amazônica.
Lúcio Costa Leite

Lúcio, você fala muito dessa ideia de devolver o conhecimento produzido e também de construir junto. De que forma esse conhecimento que está sendo produzido pelo projeto pode fortalecer, de fato, na defesa dos territórios e das pessoas que vivem neles?
A gente trabalha em parceria com essas comunidades. A ideia é que elas decidam como e quando essas informações vão ser divulgadas, que não se trata nesse princípio de estudar somente o passado, mas de usar esse conhecimento pra proteger a floresta e, principalmente, quem vive nela.
E tem um outro fator também. A tecnologia sozinha não basta. O Lidar vai nos mostrar quais são as estruturas, onde estão as estruturas. Mas são os moradores que vivem nesse território que vão nos contar o que significa cada uma delas. Um ribeirinho, um beiradeiro pode olhar algum mapa produzido ou uma imagem produzida e dizer, olha, aqui era onde ficava a roça dos meus avós.
Essa é uma parte interessante do projeto, porque é a possibilidade de juntar diferentes sistemas de conhecimento em prol de defesa de áreas ameaçadas.
A gente sempre fala no projeto que a Amazônia Revelada está ajudando a revelar uma Amazônia que sempre existiu, que é viva, habitada, cheia de histórias que agora estão sendo contadas pelas vozes que deveriam.
E é essa história que tem sido a nossa maior aliada na defesa do território e das pessoas que vivem na região hoje.
Nós sabemos que em muitos contextos científicos, os interesses de pesquisadores e os das comunidades podem entrar em conflito. Como vocês têm lidado com essas tensões ao longo do projeto?
Ao trabalhar com comunidades, a gente precisa deixar de lado essa ideia de chegar com respostas prontas. A gente também entende que construir diálogo com as pessoas, com esses mundos, com essas diferentes cosmologias, é como tecer uma espécie de rede de pesca, onde cada ponto, cada encontro, precisa ser feito com cuidado, todas as histórias que estão sendo contadas ali importam de alguma maneira, e que se alguma coisa acaba se rompendo, toda a relação, toda a rede e toda a estrutura do planejamento fica comprometida.
E é claro, nem tudo acaba sendo fácil, principalmente quando o assunto é território. As discussões podem ser bastante acaloradas, então pode haver momentos de tensão, sem dúvida, mas esses encontros servem para a gente também perceber o quanto aquilo que está sendo discutido importa para as comunidades. E é enfrentando essas dificuldades que a gente chega em algumas soluções que respeitam tanto o conhecimento científico quanto às questões tradicionais.
Quando se fala em LiDAR, costuma-se pensar apenas nos dados que estão sendo gerados. Mas por trás deles, existem histórias, decisões e relações de poder. Como o projeto tem enfrentado os dilemas éticos ligados ao uso e ao controle dessas novas informações?
Quando a gente revela estruturas arqueológicas com o uso da tecnologia, a gente não está lidando somente com dados, a gente está trabalhando com a história das pessoas, com territórios ancestrais. Então, o desafio é pensar sobre quem controla essas informações, já que muitas vezes pesquisadores estrangeiros dominam esse acesso dos dados, criam uma desigualdade de conhecimento. Então, o envolvimento das comunidades não é opcional, ela deve fazer parte do planejamento até a interpretação dos dados.
Afinal, é essencial consultar e incluir quem faz parte do processo, então quem mora ao redor ou dentro das áreas de interesse. No Amazônia Revelada, as pessoas não são sujeitos de pesquisa, elas são parceiras nesse processo de descoberta. A gente não conseguiria atuar, trabalhar, se não fosse com esse apoio dessas comunidades locais.
E, por fim, quando pensamos em uma arqueologia voltada para o futuro, você acredita que pesquisadores ainda precisam desaprender – ou reaprender – algumas práticas para atuar de maneira mais ética e coletiva nos territórios amazônicos?
Não adianta descobrir pirâmides e outras estruturas se o povo local não tiver voz dentro desse processo. Acho que um ponto disso, e no Amazônia Revelada a gente leva isso muito sério, é de que a tecnologia não pode repetir velhos erros. A gente não pode chegar com equipamentos caros e sair com os dados.
E esse diálogo entre ciência e outras cosmologias é que vai fortalecer esses povos amazônicos no presente. Quando a gente registra um sítio arqueológico, a gente cria uma ferramenta legal para proteger esses territórios. Então, acho que o futuro está no uso dessas tecnologias como o LIDAR, não só para estudar a Amazônia de longe, mas também para apoiar quem vive nela.
E a gente mostra também que a floresta nunca foi virgem, mas ela foi construída, moldada, por essas sociedades que sabiam conviver com ela. Então, a arqueologia, nesse sentido, não fala só sobre o passado, mas ajuda também a proteger o futuro dessas pessoas que vivem nesse imenso território amazônico.
Esta entrevista foi realizada por Lisiane Müller, cientista multimídia que desenvolve o projeto “Amazônia Revelada: narrativas digitais e uma arqueologia para o futuro”, com apoio da FAPESP (processo nº 2024/15228-1).
*As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade da autora e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.
Patrocinadores:
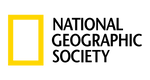

Apoio:


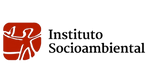


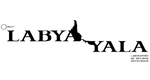

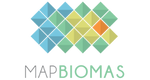
© Todos os direitos reservados a Amazonia Revelada.







